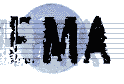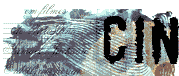
![]()
Cineasta retorna após 12 anos com "Amélia"

|
|
Amélia, visão de sonhos e metáforas da diretora Ana Carolina (Divulgação) |
Vestida toda de preto, com uma echarpe grossa rodeando o pescoço, dando-lhe uma aparência sofisticada, e um par de tênis nos pés, conferindo-lhe um ar esportivo, a cineasta Ana Carolina é a soma visível dos contrastes que carrega dentro de si. Aos 54 anos e jeito que não raramente lembra o de uma menina irrequieta, essa paulistana bem-criada, formada em Fisioterapia e que escolheu o Rio para viver, aterrissou em São Paulo, na última segunda-feira, para uma breve estada. No fim da tarde, em seu apartamento, recebeu a reportagem para falar sobre seu novo filme, Amélia, uma "comédia das diferenças", que será lançado no próximo dia 25 de agosto, depois de um jejum de 12 anos. Medo de estar voltando às telas depois de um tempo tão longo? "Claro que tenho. Do que, por exemplo? Do filme não ser entendido; na vida tudo nos escapa, estamos sempre correndo riscos", analisava, enquanto oferecia um café, que antecedeu uma conversa que durou duas horas e meia, em sua saleta de trabalho. Um telefone-fax tocava a todo instante. Ela decidiu parar de atendê-lo. Um abajur de canto revelava Ana Carolina numa versão claro-escuro, exatamente como se mostrou na entrevista: aberta e falante quando o contexto era cinema, enigmática e sucinta quando o assunto era sua vida pessoal. Há cerca de seis anos, Ana Carolina tornou-se adepta do budismo. "Não sou budista tibetana, mas sigo a filosofia nitiren, uma linha que propõe o autoconhecimento, mas sem a imposição do isolamento na montanha", explica. "É bom quando você pára de apontar o dedo indicador para culpar o outro, porque quando você faz isso, três dedos ficam dobrados para você. Essa linha ensina exatamente isso, é você quem tem a responsabilidade de mudar a sua vida." Estatelada - O roteiro de Amélia começou a brotar dois anos depois de levar ao público seu último filme, Sonho de Valsa, em 1988, que assinalava o término da aclamada, delirante e sarcástica trilogia sobre as mulheres e o amor, e que incluía Mar de Rosas (1977) e Das Tripas Coração (1982). Roteirista de sua obra, ela afirma que sua meta é escrever sempre comédias ainda que saiam "amargas". Ana Carolina escreveu várias versões de Amélia nos anos 90, em meio a duros solavancos emocionais sofridos no decorrer do processo. Ela prefere não se aprofundar o assunto, mas não se negou a comentar: "Perdi pessoas que amava: primeiro foi minha mãe, fiquei sem o chão; depois, meu pai, perdi o céu. Em seguida, meu namorado. Então o jogo amoroso perdeu o sentido; não o amor, entende?, mas o jogo." À soma dessas perdas foi acrescida a extinção da Embrafilme. "Fiquei estatelada. O que eu podia fazer? Eu não dispunha de recursos para fazer o filme, então tive muito tempo para brincar com esse roteiro." Nas primeiras versões, ela tinha criado três "Valquírias", as suas eram mulheres pobres sertanejas atoladas no interior de Minas que percorriam uma estrada até entrarem numa caverna, onde se desenrolava uma interminável discussão. Carolina compara os resultados das primeiras versões à forma da novela Os Demônios, do escritor russo Dostoievski. "Como eram episódios escritos para um jornal, pela necessidade de sobreviver, perdia-se um pouco o compromisso com o passado ou o futuro, as coisas iam acontecendo." As suas Valquírias estavam com as mesmas rédeas soltas para o eterno presente. "Tinha o marido de uma, o da outra, a terceira tinha perdido o filho. Era uma `brigaiada' sem fim e comecei a me incomodar com a possibilidade de não conseguir dar um final para a história." Grande porco - Então surgiu Sarah, a Bernhardt, trazida à memória por um sonho. "Veio com força arquetípica", lembra Ana, que no processo de criação de um roteiro, começa a ficar tão envolvida com o trabalho que, a partir de um momento, só consegue pensar nisso. "No meu sonho, um porco ancestral comia uma cobra coral. Dessa percepção, veio-me à mente a Sarah Bernhardt", conta. "Não havia lido nada que se relacionasse com ela, mas não sei por que imediatamente me lembrei que quando pequena, minha mãe costumava me chamar de Sarah Bernhardt", sublinha, sem querer evocar mais detalhes. "Isso foi o bastante para unir o sonho à memória e perceber que queria trabalhar com essa coisa muito feia destruindo uma coisa muito bonita, sabendo, no entanto, que ambas as coisas eram perigosas uma à outra", ressalta. "Aí, fechei a porta e comecei a escrever de novo. Só aos poucos fui formulando a idéia de que estava enfocando o choque de culturas entre dois países em diferentes estágios de civilização, o Brasil e a França", salienta. "O filme tem a lentidão dessa formulação. Primeiro é tudo muito orgânico, até perceber-se a metáfora das mulheres brasileiras imperializadas pela Sarah", analisa a cineasta. "Sarah pega essas três mulheres que passam, lavam e cozinham, que estão à mercê dela, e as leva embora. É o que nós fazemos com tudo o que é nosso. O que é bom não fica, vai", avalia Ana Carolina. Dá um tom pesaroso quando fala do Brasil em que vive hoje: "O País vai indo por água abaixo, servindo a um grande porco." Ela sorri, mas com amargura. Sabe que a metáfora do filme é sutil, mas real. Amélia é uma ficção que toma como partida um fato real. Em 1905, a grande Sarah Bernhardt (vivida por Béatrice Agenin, da Comédie Française, "uma atriz que imprimiu doçura a Sarah", segundo Ana) esteve no Brasil para apresentar o espetáculo Tosca, no Rio. Viria acompanhada de sua leal camareira Amélia (Marília Pêra, em participação especial), que, no entanto, morre a caminho. Suas irmãs Francisca (Miriam Muniz) e Oswalda (Camila Amado) e a agregada Maria Luiza (Alice Borges), muito diferentes de Amélia em costumes, deixam a desoladora Cambuquira para servirem na Corte como costureiras de madame Bernhardt. Na bagagem colocam suas tralhas, panelas de barro, roupas encardidas, levam o cachorro e um porco, entregue por um vizinho (Pedro Bismark) e alojam-se no sofisticado hotel onde se encontra a atriz francesa. A convivência, no entanto, revela-se completamente impossível, não só pelas diferenças de língua, mas pelos costumes e tudo o que tornou uma civilização mais forte que a outra. "Não se trata de uma cultura superior e uma inferior, mas de uma cultura mais frágil, mais gentil, que perece devorada pela cultura mais forte", define Ana Carolina. "As mulheres rústicas representam uma civilização com seus códigos, suas músicas, mumunhas, suas comidas e meios de viver. Mas quando entra a civilização imperialista, e para nós àquela época a perfeição era caminhar para o afrancesamento , esta destrói a outra." O que sobra? "A barbárie", responde a cineasta. E não poupa ataques: "A barbárie que vem de países predatórios, como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Japão, a Coréia e outros grandes f.d.p." "Fico muito triste em perceber que não temos a ocupação do território brasileiro. Tenho a impressão de que minha geração ainda vai ver o Brasil ser realmente destruído", lamenta. "A Amazônia, as flores, os pássaros, os micos, os petróleos, as praias, as músicas, eu tenho a impressão que vai tudo. Tom Jobim já tinha essa tristeza, não tinha?" No filme, as rústicas mulheres mineiras lutam o tempo todo pela sobrevivência. "Onde está o dinheiro?", elas não se cansam de gritar à atriz francesa. Elas não foram pagas pelo trabalho, nem receberam os pertences da irmã que morreu. Mas Sarah só tem palavras (em seu idioma) para o espanto e o horror. Barbariza-se quando percebe que as mulheres dispensam os talheres de prata e deleitam-se em destroçar o porco, abatido para o almoço, com as próprias mãos. Como não recebem pelos vestidos produzidos, elas castigam a madame, retirando as almofadas que amparavam sua queda ao fim do terceiro ato de Tosca. Sarah estatela-se no chão. O fato foi real. A atriz, por falta de almofadas, que deveriam ser colocadas no fundo do palco para amortecer sua queda, por esquecimento dos funcionários do teatro ou coisa parecida (a história nunca foi esclarecida devidamente), acabou fraturando uma perna, tendo de amputá-la dez anos mais tarde, em Paris. Identidade nacional - Para Ana Carolina, as três Valquírias sintetizam a imagem do anti-herói brasileiro. "Apesar da pena que sentia dessas personagens, eu não podia alterar sua condução dramática, transformando-as em heroínas, simplesmente porque isso não seria real", afirma a cineasta. "Nós não nos identificamos com o herói, tanto que não possuímos o herói brasileiro. Temos, sim, o anti-herói, tão bem representado em Macunaíma." Para a cineasta, os anos 40 e 50 no Brasil representaram uma tentativa de se construir uma sólida identidade nacional. Aleatoriamente, foi lembrando de instituições e prêmios importantes, como a Cia. Vera Cruz, de cinema, e o Prêmio Saci, conferido pelo Estado a personalidades do Brasil. "Em 58, o Brasil foi campeão do mundo no futebol, os irmãos Villas Bôas rasgavam o sertão brasileiro, Villa-Lobos surgia no cenário musical. De repente, os anos 70 viraram tudo e agora parece que virou mesmo, não dá mais para pegar." Para ela, a ditadura arrancou os dentes e deixou a baba (cultural). No entanto, apesar de crítica ferrenha (ela mesmo diz que costuma pegar pesado), não amarga o tempo todo só uma visão pessimista. "Com tudo de ruim, vieram algumas coisas boas, como, na área do cinema, uma nova legislação. Essa legislação dos anos 90 se vem mostrando boa: surgiram bons filmes, ocupamos mercado, nos reciclamos tecnicamente", assegura. Nova geração - "A tecnologia do cinema brasileiro no início de 90 não possuía estrutura, os laboratórios tinham dois filmes por ano, não havia química atualizada, o som era ruim, dublado." Ana Carolina ressalta a nova geração que está produzindo bons filmes, como o "Andrucha", diretor do filme Eu, Tu, Eles (ainda não lançado nas salas de circuito comercial). "Mesmo assim", alerta, "enquanto não tivermos uma política de ocupação de território brasileiro, não vai ter jeito." Para ela, tem de ser uma "ocupação efetiva, a alma tem de voltar a ficar espaçosa no seu lugar de origem". Nestes 12 anos distante da câmera, além de alguns roteiros, dirigiu uma ópera, Ana Carolina tentou amadurecer um novo jeito de fazer cinema, bem como de apropriar-se das novas regras do mercado, para captação de recursos. "Com a Embrafilme era de um jeito, hoje temos novas leis, como a do audiovisual." Sobre o desmonte da Embrafilme, Ana Carolina também tem duras críticas a fazer: "A Embrafilme deveria ter passado por uma correção de rota e não pela extinção total. Foi um absurdo o que o governo e cineastas deixaram acontecer", ataca. "Eu não acredito num país que consiga sustentar o cinema pelo business em si. Todo mundo diz que os EUA tem um business que se sustenta. Aqui, Tupi! O business cinematográfico nos EUA é altamente levado com mão de ferro pelo governo americano", avalia. "É a quinta potência econômica dos Estados Unidos e é tratado como potência de conquista de território. Enquanto o cinema brasileiro não fizer isso, não vai ter jeito." Corredor de vidro - Quando dirige, a cineasta, sente-se como "se estivesse num corredor de vidro em alta velocidade", o que lhe dá percepção de tudo, embora saiba que não pode sair da rota. Quando entra no set de filmagem, sente-se em estado febril e mantém-se assim, sob uma tensão interna constante, que não permite que nada escape, em momento algum, até o último dia de filmagem. (Mas os atores e as pessoas que circulam nos sets costumam dizer que ela é doce e calma para dirigir.) Essa herança, uma pegada forte, como ela diz, para que o trabalho atinja sua meta, acompanha-a como marca registrada desde o início de sua carreira, quando dirigiu seu primeiro longa-metragem, o documentário Getúlio Vargas, em 1974. Esse primeiro trabalho alcançou boa repercussão de público e crítica. Mas foi com Mar de Rosas, de 1977, o primeiro de uma trilogia marcadamente autoral, "mas não autobiográfica", como faz questão de frisar, que Ana Carolina despontaria como uma das grandes cineastas brasileiras, alcançando projeção no Exterior. Mar de Rosas enfoca a trajetória da menina Betinha (Cristina Pereira), envolvida com o casamento fracassado do pai e prestes a se casar. O filme causou tanto frisson à época que a atriz Maria Schneider se ofereceu para participar do segundo filme da cineasta, Das Tripas Coração. A participação de Maria Schneider não deu certo e foi preenchida pela atriz Maria Padilha, que vivia uma personagem às voltas com sua identidade sexual (Antônio Fagundes era o personagem interventor da escola, que sonhava com as moças). Xuxa Lopes protagonizou Tereza, em Sonho de Valsa. A personagem, já adulta, revelava o fim dos sonhos de menina. A existência de um príncipe encantado não passava de mito. Ao fim, ela termina solitária, entrando literalmente pelo cano e vendo de longe uma luz no fim do túnel. "A trilogia já ficou para trás", ressalta a cineasta, que depois do lançamento de Amélia só pensa em descansar um pouco. "Nestes 12 anos, fiquei correndo atrás da Ana Carolina para poder realizar o filme", diz. Adepta da ginástica aeróbica, amante de animais e solteira (não tive tempo de pensar em filhos, porque pensei em filmes), ela confessa que todo o processo de fazer cinema da captação de recursos à divulgação do trabalho pronto é sempre estressante. "Cinema é a minha expressão, meu ofício, mas não quer dizer que é a coisa que me dá mais prazer. É uma arte tão difícil de ser realizada, que não considero a maneira mais prazerosa de viver." Quando questionada sobre qual seria a maneira mais prazerosa de viver, emendou o pensamento, mal traindo um prazer, que deixou escapar dos olhos escuros e profundos: "Sou uma prisioneira dessa condição." Leia mais:
» Diretora mostra passagem de Sarah Bernhardt pelo Brasil